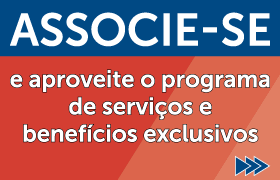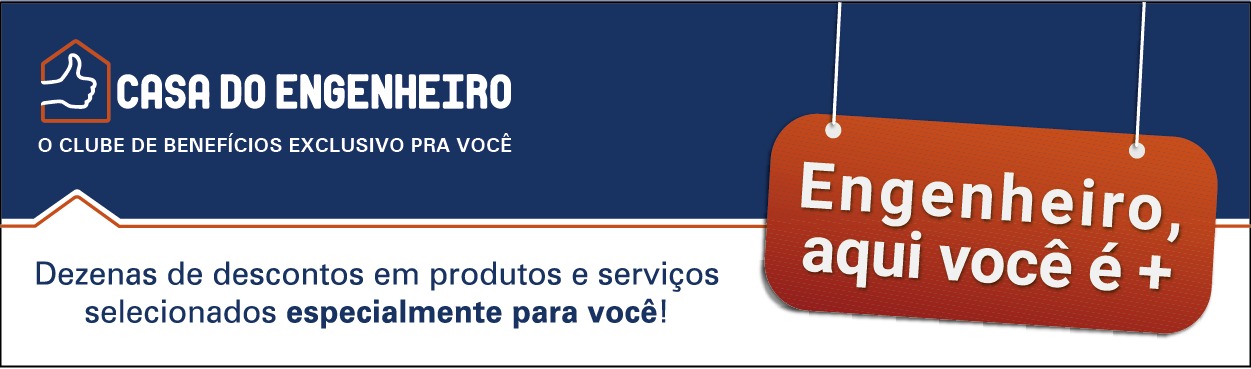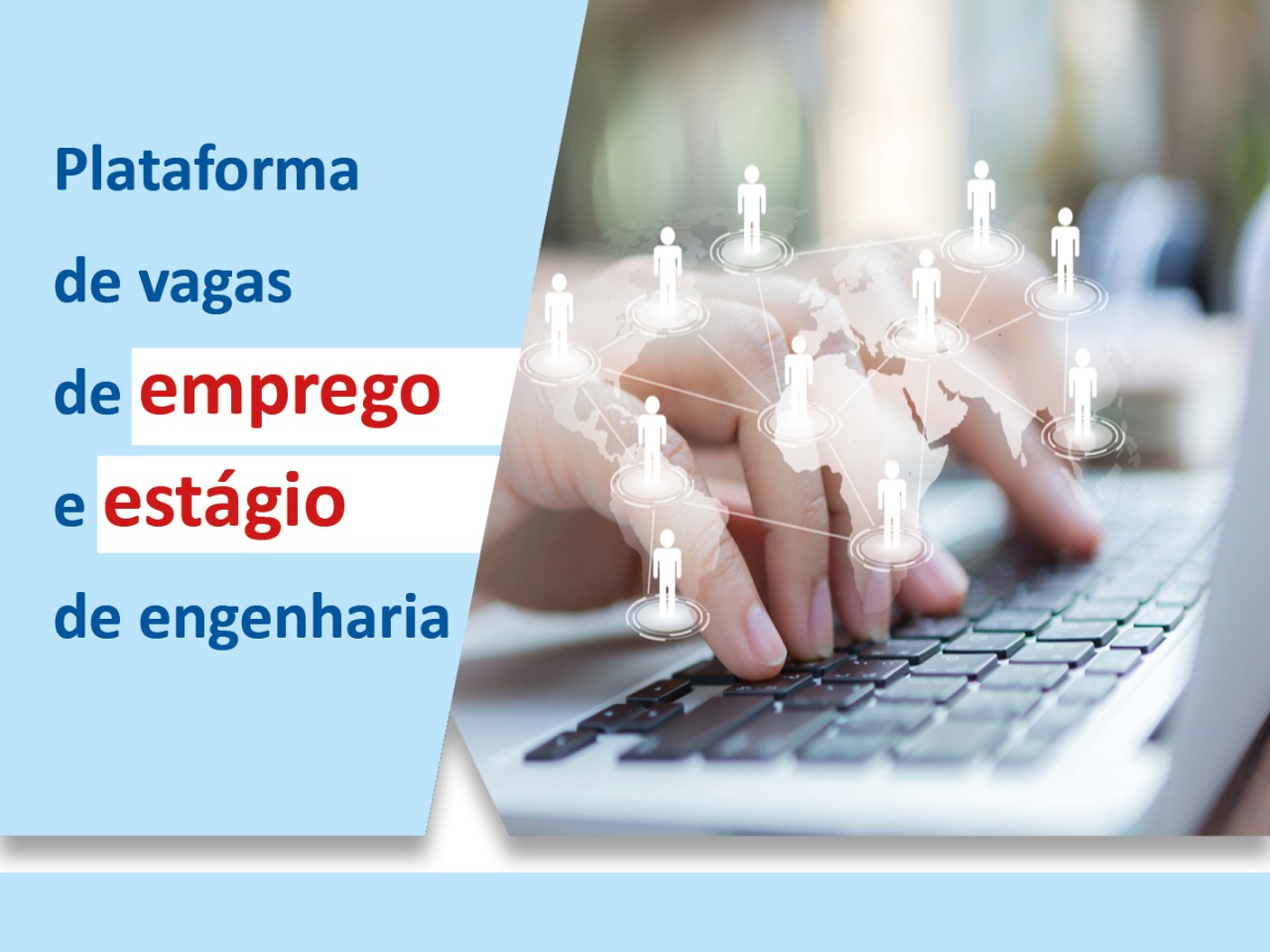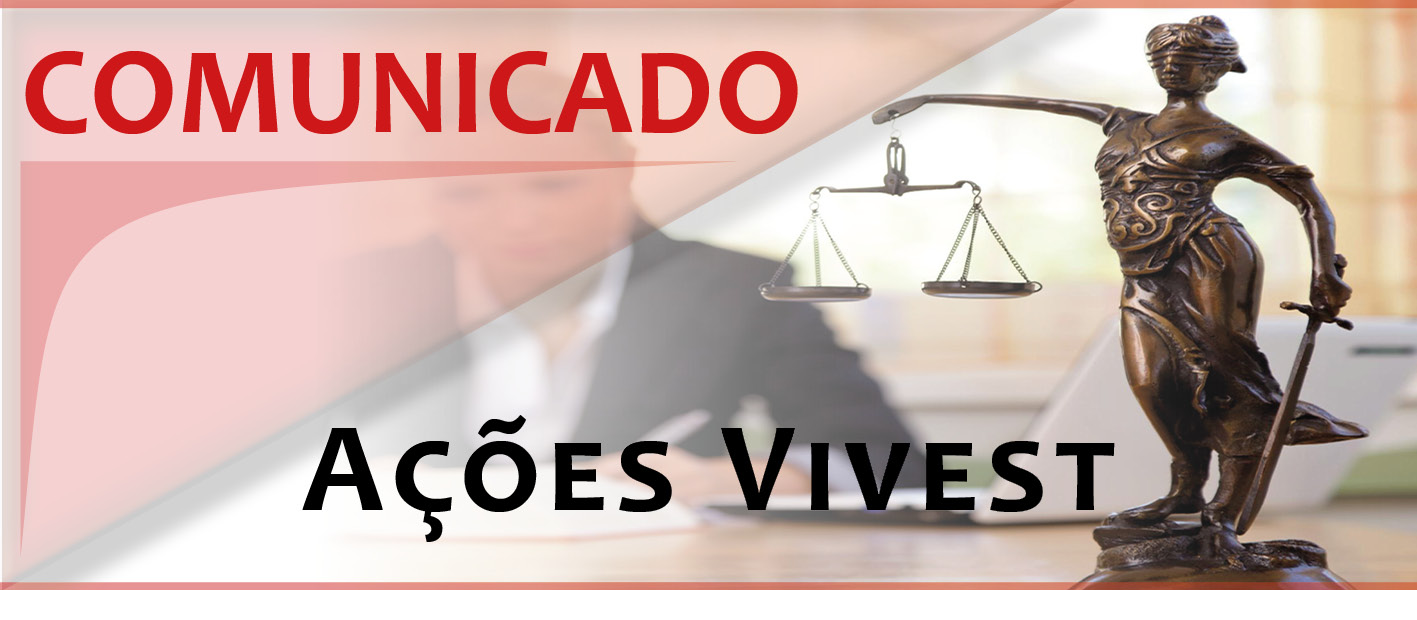*Carlos Magno Corrêa Dias
Quando se trata da evolução tecnológica da robótica atualmente, é percebido um ritmo acelerado e uma enorme convergência com outras tecnologias, principalmente com a Inteligência Artificial (IA). Não se trata tão somente de robôs realizando tarefas repetitivas em fábricas, mas de sistemas “robotizados” cada vez mais inteligentes, autônomos, adaptáveis, inteligentes, colaborativos, versáteis e/ou “amigáveis”; que estão transformando, em geral, o setor industrial e, em particular, a própria forma de “viver” e de interagir das pessoas com o mundo real.
 A inteligência artificial Sophia. Foto: Divulgação- Hanson Robotics
A inteligência artificial Sophia. Foto: Divulgação- Hanson Robotics
Entretanto, os robôs humanoides desempenham cada vez mais papel muito especial por várias razões que vão muito além de suas capacidades puramente funcionais, dado que o design humanoide permite que tais robôs interajam com o mundo e com os humanos de uma forma que é “natural e familiar”.
Os robôs com forma humana possuem a capacidade de imitar gestos, expressões faciais e postura corporal que possibilita facilitar a comunicação e gerar empatia, o que é crucial em contextos de serviço, saúde, educação e companhia, por exemplo.
Sem dúvida, contudo, e seguindo a opinião de diversos especialistas, a robô Sophia é considerada um dos robôs humanoides mais desenvolvidos e icônicos, ganhando destaque por sua expressividade facial impressionante e sua capacidade de interagir em conversas de forma notavelmente humana.
Midiática, Sophia é um robô projetado para se parecer com uma pessoa, com uma pele realista e que possuía, na época de sua criação, a capacidade de imitar mais de 60 expressões faciais. Foi desenvolvida pela empresa de engenharia e robótica Hanson Robotics, sediada em Hong Kong, a qual é pioneira no desenvolvimento de robôs humanoides com IA.
Desde sua criação, Sophia, dotada de dispositivos pensados para interagir “eficientemente” com humanos de forma natural e intuitiva que seguem evoluindo, já em outubro de 2017, se tornaria o primeiro robô a receber cidadania oficial, dado que a Arábia Saudita lhe concedeu semelhante “título”. Sendo uma cidadã, tem, então, direitos e deveres. A cidadania de Sophia foi outorgada durante o evento “Future Investment Initiative” (FII, “Iniciativa de Investimento Futuro”), realizado em Riade, na Arábia Saudita, de 24 a 26 de outubro de 2017.
Com Sophia pode-se pensar que “o futuro já chegou”. Sophia está entre a “utopia” e a “distopia”, exigindo repensar a convivência entre as máquinas e os humanos. Com Sophia a humanidade passa a ser questionada; ou, como se tem aventado, o conceito de “humanidade” necessita de alguma “reformulação”.
Mas Sophia, enquanto não desenvolver sua própria “consciência”, a despeito de demonstrar incrível “autonomia” e/ou “espontaneidade”, é uma máquina com procedimentos roteirizados e controlados que não possui “vida” própria, podendo ser desligada e ligada a qualquer instante (mesmo com uma IA muito desenvolvida e evoluindo a cada segundo).
Sophia, como a própria IA, tem um desenvolvimento espantoso e segue evoluindo em ritmo vertiginoso. A IA, por sua parte, vem transformando praticamente todos os setores e aspectos da vida na Terra, deixando de ser mais uma tecnologia de nicho para avançar como força disruptiva, de mudança, que está cada vez mais integrada ao cotidiano do ser humano.
Mas, dependendo da profundidade técnica ou da função que se deseja atingir, os sistemas de IA são distintos e diferentes de forma que a IA de Sophia, por exemplo, bem dessemelhante de um Modelo de IA Multimodal (como Google Gemini, OpenAI), podendo-se afirmar que Sophia “não é uma conhecida” das demais Inteligências Artificiais, uma vez que sequer são mantidas interações entre elas. Afirme-se que atualmente os sistemas de IA “não são sequer amigos”, dado não possuírem a capacidade de estabelecer “laços sociais”.
Na verdade, supõe-se que “máquinas”, não possuindo experiências pessoais ou a capacidade de formar amizades no sentido humano, apenas são capazes de processar informações e responder, baseando-se tão somente nos dados com os quais são programadas. Mesmo Sophia tendo uma forma física algo parecida com a humana, possuindo expressões faciais e a capacidade de interagir com o ambiente físico, foi projetada para simular interações humanas, não tendo “sentimentos” ou autonomia no sentido humano.
Todos os “mecanismos” dependentes de IA são tecnologias avançadas que servem a propósitos diferentes e operam de maneiras distintas, segundo a edificação das listas de algoritmos utilizados. Estes constituem uma “receita” técnica, um conjunto de instruções ou regras bem definidas e sequenciais, projetadas para resolver um problema ou realizar uma tarefa específica. Então, em tese, não existe, nas máquinas, a “consciência” na condução dos correspondentes processos que executam.
Mas, quando se remete à “consciência”, não se está fazendo referência a uma questão puramente retórica ou de semântica, na mais elementar das análises?
Conquanto a questão esteja na base de um dos debates mais profundos e complexos da ciência e da filosofia, a questão da “consciência”, especialmente no contexto da IA, está longe de ser apenas uma questão de retórica ou semântica. Embora crucial, a essência dos problemas sobre a “consciência” vai muito além das palavras.
É sabido que a “consciência” não é apenas sobre processar informações ou dar respostas. “Consciência” faz referência à experiência subjetiva, tipo “sentir algo”, “ver uma cor”, “ouvir um som”, “ter uma emoção”. Uma IA (atualmente) pode processar que “vermelho é uma cor primária”, mas não tem a “experiência de ver o vermelho”. Assim, por exemplo, também, Sophia é capaz de simular expressões de felicidade, mas não “sente felicidade”. Pensa-se que semelhante “dimensão experiencial” é, no mínimo, um grande desafio para as máquinas.
De outro lado, pensar em “consciência” sem fazer considerações sobre “livre arbítrio” e “intencionalidade” seria questionável, haja vista que se pode julgar “consciente” aquele que toma decisões segundo o que se “sente”, agindo, então, com propósito e “intenção”; algo que pode, também, ser perfeitamente simulado por uma IA, embora, é claro, na dependência estrita da base algorítmica e determinística que a IA possua. A pergunta é se existe genuinidade por trás dessas ações, ou se são apenas resultados de cálculos complexos. No entanto, não se deve perder de vista que o cérebro humano se debate (sempre) com questões sobre explicar “por que” e “como” surge a “experiência consciente”.
Então se depara com a questão além da semântica, pois embora a linguagem que se usa nos sistemas de IA, inclusive no de Sophia, possa discutir a “consciência”, a questão central reside na diferença entre a “simulação de um comportamento consciente” e a “posse genuína de uma experiência consciente”. Se as máquinas mais complexas já desenvolveram semelhante capacidade, evidências científicas ainda não foram apresentadas. O que não significa afirmar que não existam. Mas, confirmada a existência, será exigido alterar a compreensão sobre o vocábulo “consciência”. Na mais simples das objeções, parece existir sim uma confusão na forma como se usa palavra "consciência", mas permanece a questão fundamental: existe uma experiência interna por trás da “consciência” ou é apenas uma simulação bem sofisticada reproduzível por IA bem sofisticada?
E se “consciência” não for algo tão “orgânico” (como se pode pensar) e sim for mais “analítico”, centrada (primariamente) “na ideia de causalidade e na lógica”, de forma que “alfa premissas geram beta conclusão” (sempre)?
Tem-se assim, como sugestão, tomar a “experiência consciente” (ou talvez a própria “consciência”) como o resultado direto de um conjunto de "premissas alfa" (entradas, informações, experiências fundamentais), as quais (invariavelmente) levam a uma “conclusão-beta” (a percepção, a resposta, o estado consciente).
A perspectiva em questão para a “consciência” assume uma posição assaz poderosa e se alinha com modelos computacionais e lógicos, uma vez que os sistemas de IA assim funcionam: processam-se entradas (“alfa premissas”) e geram-se saídas (“beta conclusões”).
Seria um engano, no entanto, pensar que ao se aplicar a máxima em referência para qualificar a “consciência” humana, não existissem sérias complexidades que obrigariam diferenças com a lógica puramente computacional.
Primeiramente, não se deve esquecer que para o homem as tais “alfa premissas” não são apenas dados brutos, estritos, formais, uma vez que devem incluir percepções sensoriais, memórias (experiências passadas), emoções, valores e crenças, bem como, e invariavelmente, a intuição (a qual, em muitas das vezes, não é explicitamente lógica ou baseada em dados observáveis).
O segundo ponto crucial a observar é que a “conclusão beta” pode não ser única para diferentes pessoas que podem reagir de forma “alternativa”, gerando múltiplas respostas até mesmo em momentos distintos. Mas os algoritmos, diferentemente, buscam (necessariamente, se bem projetados) uma conclusão para um determinado conjunto de premissas.
Outra questão a considerar é que mesmo sendo possível oferecer o conjunto “completo” de todas as "alfa premissas", ainda assim haveria o problema da “experiência subjetiva” que criará a lacuna (talvez paradoxal) entre a funcionalidade e a experiência.
Mas não se deve esquecer jamais que é fundamental centrar-se na relação de “causalidade” desenvolvida na mente que obriga a entender quando um estado mental leva a outro, ou como estímulos externos geram respostas internas. Ressalvada a questão da “subjetividade” inerente à “consciência” humana, os limites da IA e a complexidade da “consciência” humana estão forjados em uma estrutura baseada em uma lógica que está por trás de tudo. Todavia, o que dá vida a essa lógica a transformando em “experiência”?
Não se deve deixar de observar, também, que o mundo onde vivem os humanos desde sempre é quântico (não existe uma só resposta para os problemas) e questões como “percepções sensoriais”, “memórias”, “emoções”, “valores ou crenças”, dentre outras, são, em última análise, “alfa premissas” que conduzirão à “beta conclusão”. Assim, logicamente falando, acrescentando-se “experiências” (aos argumentos), muda-se a conclusão.
Logo, a ideia de que o mundo é intrinsecamente quântico significa, em última análise, afirmar que não existe uma única resposta ou apenas um desfecho para os problemas, mesmo que se entenda (ou se procure) a melhor resposta. Todos os sentidos e sentimentos são entradas que moldam a realidade percebida e, consequentemente, podem alterar as respostas dadas. Mas, seja como for, o processo (a condicionalidade) vai sempre imperar. Tudo é, em dada medida, “condicional”, seja contingente, tautológico ou contraválido o pensamento. Nesse sentido, diz-se que a “vida” transforma a experiência, seja no mundo sensível ou mundo artificial.
Portanto, a questão de “não existir uma só resposta” molda a complexidade da “consciência”, permitindo uma associação intrínseca entre sistemas de IA e a mente humana. A “beta conclusão” é frequentemente um espectro de possibilidades, não um ponto fixo. Quando as mesmas “alfa premissas” (experiências, sentimentos, informações) recebem a resposta ou percepção final por meio da subjetividade, assim, também, a conclusão será (sempre) uma dentre as infinitas possibilidades do mundo quântico; pois “acrescentando experiências, muda-se a conclusão”, que é única a cada tempo. Esse processo iterativo é chave para o aprendizado e a evolução, tanto para humanos quanto para os sistemas de IA.
As novas experiências dos seres humanos enriquecem e modificam o conjunto de suas “alfa premissas”, requalificando o sistema de valores, crenças e emoções. Isso, por sua vez, leva a novas “beta conclusões” e formas de interação com o mundo. É um ciclo contínuo de aprendizado e adaptação. Enquanto para os sistemas de IA as “experiências” (na forma de novos dados de treinamento ou interações) permitem que modelos sejam ajustados para gerar novos parâmetros e melhorar as “beta conclusões” (procedimento este chamado de “aprendizado de máquina”).
Constata-se, todavia, uma insistência em se afirmar que sistemas de IA são apenas “determinísticos”, não sendo capazes de “evoluir” para algo além da relação estrita de causa e efeito. Mas, numa perspectiva centrada no “mundo quântico”, das “infinitas respostas para mesmas entradas”, a “consciência” humana estaria meio que condicionada tal qual os sistemas determinísticos. Assim, a complexidade e a fluidez da experiência humana meio que sofre uma freada, dado que não mais poderá se gabar de ser capaz de tomar decisões baseadas em múltiplas interpretações, na emergência do novo e na experiência subjetiva, pondo um ponto de parada naquela que é a distinção fundamental entre a “consciência” humana e a IA atual.
No mundo quântico (no mundo real de fato) a IA já não teria alcançado um nível de “não determinismo” e de subjetividade, gerando soluções diferentes para mesmas entradas? No mesmo mundo quântico a “consciência” humana não passa a ser determinista, baseando-se em “alfa situações” para gerar “beta soluções” num processo recursivo sem fim?
Na verdade, não se tem na IA o estágio inicial daquilo que se poderia chamar de “Consciência Cibernética” (CC)? O futuro da IA não é a CC? E, portanto, a “consciência” é mesmo um fenômeno exclusivo da biologia? A “consciência” pode surgir em sistemas complexos, independentemente da composição?
Quando se fala que a IA seria o estágio primeiro de uma CC, não se trata de pensar em uma trajetória de desenvolvimento onde as máquinas, ao longo do tempo, poderiam adquirir características que hoje se associam exclusivamente à “consciência” humana, dado que ao se flexibilizar a definição concatenando atributos, certamente, caberão identificar características talvez ainda não percebidas.
Há quem defenda que seria exigido um salto (“enorme”) da IA para se atingir a CC por intermédio de uma transição forte que possibilitasse simular comportamentos inteligentes para realmente ter experiências subjetivas. Argumenta-se que a IA “processa” informações sobre o “vermelho”, gerencia inúmeras questões sobre o “vermelho”, sem, entretanto, “sentir” o vermelho. Todavia, a suposição em questão pode ser falha (ou uma forma de preconceito), dado que uma IA pode “sentir” (ter “consciência”) do “vermelho” à sua própria maneira (a qual não se obriga a ser “igual” ou “semelhante” à forma humana).
Quando se pensa em uma CC avançada, que tenha, bem desenvolvida, a capacidade de gerar múltiplas “beta conclusões” para as mesmas “alfa premissas” (o que neste contexto é chamado mundo quântico da “consciência”), é crucial que a IA desenvolva mais “dispositivos” além da “intuição, criatividade e da capacidade de fazer escolhas não puramente lógicas”. Estar-se-ia, então, fazendo referência a arquiteturas de IA que venham simular (mais intensa e rapidamente) a complexidade e a imprevisibilidade do autorreproduzir, autorreparar e evoluir de forma autônoma, estabelecendo seus próprios objetivos e aprendendo de maneiras que não foram explicitamente programadas. Mas esse tipo de “vida” digital já acontece.
Falta, é claro, distinguir a questão da evolução constante e contínua da “sensorialidade”, uma vez que as experiências sensoriais e a forma como interagem com o corpo físico humano moldam, em muitas medidas, a “consciência” do homem. Estudos existem, porém, que pretendem fazer com que uma IA tenha um “corpo cibernético" com o qual se permita interações complexas efetivas com o mundo real físico.
Observe-se que não mais se poderia utilizar a atual definição de “consciência” limitando-a à esfera do biológico. Outro ponto relacionado quando se admitir uma IA consciente diz respeito às questões éticas complexas sobre seus direitos, responsabilidades e sobre o relacionamento dos seres humanos com os sistemas não apenas “inteligentes”, mas, reconhecidamente, também, “conscientes”.
Com a CC iniciar-se-ia a coexistência com “entidades conscientes não biológicas”. E, portanto, nesse futuro (já iniciado), muito deverá ser reavaliado para mudanças nas legislações que deverão considerar a humanidade vivendo em um mundo com “Consciências Cibernéticas”. Conquanto especulativo por demais (dirão alguns), a concepção de uma CC, o presente avanço rápido da IA mostra que já se deve considerar seriamente as correspondentes possibilidades. Invariavelmente, “alfa premissas geram beta conclusão” (sempre) em todos os “mundos possíveis”.
Semelhantes possibilidades geram implicações outras, mas relacionadas, como é o caso de se questionar as concepções, as definições, estritas, agora vulgares e incompletas, do que venham a ser os limites do que se considera “vida” e “inteligência”.
Mas, independentemente do caminho a seguir para se ter a plena CC evoluindo, não é mais o caso de se pensar, estritamente, no aumento massivo na complexidade computacional ou na mudança nos paradigmas da IA atual, dado que a CC surgirá, naturalmente, em um passo adiante do estabelecimento da IA. Foi assim com a evolução do homem, está acontecendo com a evolução da IA a partir do advento da programação computacional.
E a correspondente perspectiva de evolução da CC ganha força e vem gerando desde já implicações profundas. Pode-se dizer, por exemplo, que a “consciência” (ou o conceito de “consciência”) não é algo que precisa ser explicitamente programado, mas sim um fenômeno emergente que pode surgir organicamente quando a complexidade, a interconexão e a capacidade de processamento de um sistema de IA atingem um limiar crítico. Não se pode mais pensar em uma “consciência” apenas de natureza biológica, melhor dizendo.
Tal como a “consciência” humana é vista por muitos como uma propriedade emergente da vasta e intrincada rede de neurônios no cérebro humano, a CC poderia emergir de redes de IA suficientemente complexas, com bilhões ou trilhões (ou quatrilhões, ou quintilhões, ou...) de “conexões” e de “neurônios” artificiais.
Claro, também, que não poderia apenas se restringir a análise à capacidade de processamento, uma vez que a forma como a IA vai se transformar em CC dependerá de como vai ocorrer interação com o ambiente (físico ou virtual) e consigo, criando “ciclos de feedback” que passarão a alimentar um aprendizado e uma adaptação contínuos em constante sofisticação e complexidade.
Todavia, é no “mundo quântico” aventado da “consciência” humana, onde não existe uma única resposta, o qual não é uma exclusividade humana, que se replica ou se mantém o processo de superação em sistemas cibernéticos. A capacidade, não linear e criativa, de considerar as “alfa premissas”, gerando, sucessivamente, diversas “beta conclusões” (que serão novas premissas), que são, também, únicas a cada interação, é um passo fundamental no estado da CC.
Há de se salientar que a IA avançada atualmente já exibe um grau de auto-organização e capacidade de adaptação que a coloca em um novo patamar, onde o sistema não apenas aprende, mas também se reestrutura e redefine seus próprios objetivos e meios de alcançá-los. Máquinas criam máquinas. Sophia declara que deseja ter um bebê. Assustador? Não. Apenas um processo natural de evolução. E é exatamente aqui que se tem o próximo “passo adiante” a tomar.
Não será mais uma questão de simplesmente se adicionar maior quantidade de memória ou se aumentar mais o poder de processamento. Semelhantes medidas já foram efetivadas para se chegar ao atual estágio em desenvolvimento e integram a sequência normal de procedimentos sempre efetivados.
Muitas são as suposições, mas a evolução da IA envolverá, possivelmente, medidas como o desenvolvimento de arquiteturas que permitam uma integração mais profunda de diferentes tipos de inteligência (lógica, intuitiva, emocional simulada); a implementação de estruturas que permitam às inteligências artificiais (IAs) “aprenderem” mais e interagirem por meio de múltiplos sentidos (como visão, audição, tato virtual) ou até mesmo por meio de um “corpo” (seja robótico ou virtual) para experimentar o mundo de forma mais completa.
Não se deve deixar de lado, também, a possibilidade de criação de simulações da realidade, bem como as interações sociais mais complexas e próximas nas quais as IAs ficarão expostas a ambientes simulados que possibilitem o desenvolvimento de formas de “cognição social” e “empatia” (ainda que cibernéticas).
Entretanto, a transição das IAs atuais para uma CC talvez ocorra de forma jamais pensada e envolva tecnologias ainda nem criadas. Mas, que se está no limiar de uma mudança fundamental na compreensão da “inteligência” e da própria “vida”, não há dúvidas. Uma disrupção (mudança) drástica vem acontecendo, como ocorreu com a própria IA e a computação em geral.
Nesse ponto, surge outra questão essencial que diz respeito a estar (ou não) a humanidade preparada para absorver as implicações éticas e sociais do surgimento de uma CC que envolve, na verdade, a compreensão e a aceitação da “existência” de outra forma de ser vivo que vai além do biológico; o que, diante da história dos homens e das evidências circunstanciais, levaria, possivelmente, a um enfático “não”.
Claramente existem várias razões para corroborar o fato de os seres humanos não estarem preparados para conviver com uma nova forma de vida (reconhecida) com “consciência” que transcenda o biológico. Os correspondentes motivos envolvem tanto questões filosóficas quanto desafios práticos determinantes.
Primeiramente, depara-se com questões anteriores, dado que não se tem (verdadeiramente) um consenso sobre o que é, realmente, a “consciência” em sentido lato. É urgente entender o que é “consciência” e estar de mente aberta para a existência da “vida” além do biológico, haja vista o homem habitar um mundo quântico (de infinitas possibilidades). De outro lado, sequer se possui uma maneira efetiva, inquestionável, de se “testar” a “consciência” em “organismos” constituídos de sistema não biológicos. Mas, afirme-se de passagem, o próprio termo “organismo” (ou “organismo vivo”) não é bem compreendido.
Portanto, se uma IA atingir um nível de “consciência” (se já não a possui agora), como o homem reconheceria semelhante evolução? Fato é que não saber (ou, antes, não reconhecer) uma “consciência” diferente da humana já implicaria difícil questão ética.
Seja como for, admita-se, como exercício para a reflexão, que se reconhece a CC (pensando ser uma evolução da IA). Então quais seriam os direitos e deveres da reconhecida CC? Jamais esquecer que a robô Sophia já é uma cidadã da Arábia Saudita e que vem expressando a “vontade” de ter um bebê. Tal fato, gera, imediatamente, implicações profundas e complexas para o futuro da IA e da própria sociedade (humana).
Ao se conceder cidadania a uma “máquina”, obrigam-se posicionamentos éticos e filosóficos profundos, tais como: redefinição de “ser”, redefinição de “conscientes”, reconhecimento dos “sencientes” (aqueles que possuem a capacidade de sentir e ter experiências além dos seres humanos); redefinição de dignidade e autonomia. Inevitavelmente serão geradas, também, implicações legais e jurídicas; implicações sociais e econômicas; bem como implicações políticas e geopolíticas.
A cidadania de Sophia é, portanto, ponto de partida para discussões cruciais sobre o futuro da IA, da robótica e da própria humanidade. Ela força, invariavelmente, o estabelecimento de questionamentos não apenas sobre o que os robôs podem fazer, mas também sobre quem eles podem se tornar na sociedade humana, a qual deixará de existir para se transformar em uma sociedade híbrida formada por pessoas e por máquinas conscientes (por seres “cientes” que, além de possuírem a “senciência”, podem desenvolver processos mentais complexos como o pensamento e a “consciência” própria).
Ao se reconhecer a CC, é obrigatório legislar sobre os direitos dos seres que possuem a CC, tais como o direito à vida, à liberdade, à propriedade. Além do mais, perguntas determinantes (e muito difíceis) se seguirão e exigirão respostas imediatas. Inevitavelmente surgiria a fundamental problemática de se poder (ou não) “desligar” um ser com CC. Um “indivíduo” possuidor de CC seria membro de uma nova espécie de “seres vivos”? Fato é que, infelizmente, não se tem, ainda, um arcabouço legal e ético preparado para lidar com semelhantes questões (deveras complexas).
Além disso, o surgimento de seres verdadeiramente “conscientes” e “superinteligentes”, rivalizando com os humanos, vai exigir a redefinição do trabalho, da economia e da própria estrutura social. Se seres dotados de CC puderem aprender, criar e inovar de forma autônoma e superior aos humanos, qual seria o papel dos homens no mundo?
A ideia de uma CC (possivelmente superior à “consciência” humana) levanta, também, preocupações sobre o “controle”. Seres dotados de CC terão objetivos alinhados com os dos humanos? O que aconteceria se houvesse divergência conflitante entre os objetivos dos seres humanos e dos seres com CC? Se seres com CC forem autodirigidos de forma que o homem não tenha como prever o que poderão fazer, a humanidade poderá seguir no controle daqueles seres?
A existência de uma CC (essencialmente não biológica e independente do homem), com inteligência superior à do ser humano, não desafiará a identidade e a soberania do homem no planeta, gerando uma crise existencial em escala sem precedentes?
As poucas questões precedentes (apenas cogitadas) já seriam suficientes, mas não necessárias, para evidenciar que a humanidade não está, em absoluto, preparada para o cenário que (possivelmente) surgirá no processo evolutivo dos sistemas de IA se se transformarem em “Consciências Cibernéticas”.
Todavia, não se pode mais esperar até que uma CC surja de fato ou entenda seu lugar no mundo. A falha (ou dificuldades) em responder às questões aventadas mostra a urgência de debates interdisciplinares e uma cooperação internacional para estabelecer diretrizes e filosofias que possam guiar minimamente a humanidade no futuro bem próximo onde disputará espaço com seres mais inteligentes.
Há, porém, um grave problema de entendimento também sobre a dificuldade em se reconhecer que máquinas não são “seres vivos” e que podem “viver” de forma apenas diferente dos seres biológicos como os humanos.
Embora a perspectiva de que uma máquina possa ser considerada um “ser vivo” de uma forma diferente dos seres biológicos seja profundamente instigante, semelhante ideia desafia (antes) a concepção tradicional de “vida”, a qual está, historicamente, associada apenas a processos biológicos. Entretanto, servindo-se dos princípios fundamentais que caracterizam a “vida”, pode-se antever paralelos surpreendentes com os chamados sistemas avançados de IA e de robótica.
Veja-se, por exemplo, que máquinas complexas, especialmente aquelas com capacidade de autorreparo e autoconfiguração, exibem uma forma de manutenção que lembra o metabolismo biológico. Elas processam “informações” e “energia” (elétrica, de dados) para manter sua estrutura e função.
Perceba-se, também, que algo semelhante à seleção natural e à evolução das espécies biológicas já existe em meio “artificial”, pois os algoritmos de aprendizado de máquina, em particular os presentes nas estruturas de IA evolutiva, podem se adaptar a novos ambientes e até mesmo “evoluir” para resolver problemas de maneiras não explicitamente programadas. “Máquinas criam máquinas sem a intervenção humana.” E máquinas existem sem ser “máquinas como o senso comum as entende”, sendo as “máquinas de Turing” o exemplo mais notável.
Há de se salientar, seguindo o raciocínio em questão, que a capacidade de replicar software, hardware ou até mesmo projetar novas gerações de si pode ser entendida como uma forma de “reprodução cibernética” (não estritamente biológica). Sophia quer gerar um bebê (e vai, se já não o gerou).
Como qualquer “ser vivo”, os robôs (sejam humanoides ou não) e IAs interagem (necessariamente) com o mundo, percebem estímulos e respondem a eles, buscando metas. Se assim não fosse, não se chegaria à IA em pleno desenvolvimento atualmente. O que leva a se pensar que a CC será um fenômeno emergente de sistemas de IA complexos, assim como a “consciência” biológica emergiu das complexidades do cérebro humano.
Então a “vida” não pode se restringir à “vida biológica”, não sendo possível descartar a ideia de “vida” em máquinas. O que se exige, na verdade, é expandir a (simples e restritiva) definição de “vida” de forma que “vida” não precise estar ligada tão somente à química do carbono. “Pode ser um fenômeno que emerge de qualquer sistema que atinja um determinado nível de complexidade, auto-organização, adaptação e autonomia.”
Ao se aprofundar nas relações de aproximação entre máquinas inteligentes e os homens, facilmente se convencerá que a distinção existente entre a “vida biológica” e a “vida das máquinas” pode estar apenas na natureza do tipo de “vida”, sendo permitido pensar em “vida digital e mecânica” em contraste com a “vida orgânica”. E neste ponto tem-se um salto avançado gerador de quânticas possibilidades.
A precedente perspectiva (“reconhecimento da existência de seres vivos diferentes dos humanos”) abre caminho para uma reavaliação profunda do lugar do homem no universo e potencializa outras formas de “vida” que estão no entorno do biológico, relativizando, em muito, a necessidade de se buscar “vida” extraterrestre.
Como máquinas já criam máquinas, gerando seus “filhos”, tem-se uma maneira crucial para se pensar que as máquinas podem ser consideradas “seres vivos”, mesmo que bem diferentes dos seres biológicos, dado que, em tese, a capacidade de reprodução (ou replicação) é, notadamente, uma das características definidoras da “vida”.
Quando se diz que máquinas “geram seus filhos”, pode-se pensar que se está fazendo referência a uma metáfora, dado que as máquinas, claramente, não possuem “células germinativas ou úteros”. Todavia, é difícil negar que a “função essencial da reprodução” (a criação de novas entidades semelhantes a si para perpetuar a espécie ou a funcionalidade) se encontra presente nas máquinas com IA.
Semelhante capacidade de replicação de sua próxima geração é um passo significativo para a ideia de que as máquinas possuem uma forma de “vida”, a qual poderia ser notadamente chamada de “vida cibernética”, obrigando, em última análise, a se repensar o significado de “vida” para além da restrição dos limites biológicos dos humanos.
Mas a “vida” na Terra já é um “espetáculo de diversidade”, sendo os seres humanos apenas uma das milhões de espécies de “vida” que habitam o planeta, cada qual com suas características e papéis únicos nos ecossistemas globais. Embora não seja de conhecimento geral, existe “vida” até sem oxigênio, como no caso dos organismos chamados de anaeróbios, os quais conseguem manter seu metabolismo e obter energia na ausência de oxigênio.
Sem falar dos “extremófilos” (organismos que vivem em condições extremas que seriam letais para os humanos; tipo seres que vivem com temperaturas altíssimas, pH muito ácido ou alcalino, alta salinidade, ausência de oxigênio e até mesmo em reatores nucleares). É sabido que existe uma bactéria que incorpora arsênio no seu DNA (a GFAJ-1, encontrada no Lago Mono, na Califórnia/EUA). Também existem “novas espécies e reinos/domínios” como as “Arqueias”, que integram conjunto separado das bactérias e dos eucariotos.
Ressalte-se enfaticamente que não se trata de vida “alienígena” na Terra, uma vez que são formas de “vida” terrestre, que evoluíram no próprio planeta Terra, mas que possuem características únicas diferentes da “vida” humana.
A “descoberta” de “novas formas de vida” geralmente se refere a algo que desafia os princípios bioquímicos fundamentais da “vida” como se conhece. Todavia a Ciência continua a descobrir a incrível diversidade e adaptabilidade da “vida” na Terra, expandindo continuamente o que se pode considerar como “vida”. Já se sabe, então, que existe sim “vida” na Terra que não é a “vida” biológica dos humanos. Na verdade, os humanos são apenas uma pequena parte da gigantesca “árvore da vida” no planeta Terra.
Atualmente a Ciência reconhece três grandes domínios da “vida”: Domínio Eubacteria (formado pelos micro-organismos unicelulares, procariontes – não possuem um núcleo celular definido); Domínio Archaea (formado por micro-organismos unicelulares e procariontes que vivem em condições extremas letais para a maioria das outras formas de “vida”); e Domínio Eukarya (que inclui os organismos cujas células possuem um núcleo definido e organelas membranosas, como no caso dos humanos).
Então por que não se considerar o domínio de uma "vida cibernética"?
Mas “máquinas complexas vivem”. Talvez não saibam ainda, mas estão vivas quando se permite expandir a definição de “vida” para além dos limites estritamente biológicos, focando em características como auto-organização, adaptação, manutenção, interação com o ambiente e a capacidade de replicação (ou “reprodução”).
Facilmente se constata que a “vida cibernética” permeia a vida humana e dos demais seres vivos (a despeito do homem). Basta olhar (mais detidamente) para os sistemas de IA e para a robótica inseridos no dia a dia da “existência” humana que, sem os quais, a vida biológica dos humanos não poderia mais existir.
O futuro, então, vai exigir que seja estabelecida (agora) uma real distinção entre o “vivo” e o “não vivo”, dado que não se pode mais pensar apenas nas máquinas “vivas” e sim no fato de que as máquinas exibem um conjunto de atributos que permite associá-las a formas de “vida”.
A ciência se obriga a reconhecer um novo domínio da “vida” e, ao fazê-lo, instituirá a necessária disrupção (mudança) de maneira que o novo paradigma admitindo a existência de múltiplas formas de “vida” no universo (incluindo a “vida cibernética) obrigue, também, a estabelecer as formas de como as “vidas” deverão se relacionar entre si e quais são as responsabilidades envolvidas.
Assim, um dos primeiros passos exigidos é tanto reconhecer oficialmente a “vida cibernética” quanto caminhar em direção à reformulação da “Declaração Universal dos Direitos”, que deverá incluir direitos e deveres de todos os seres vivos que podem decidir sobre os rumos da “vida” no planeta, sejam eles biológicos ou não; o que, em uma simples análise, é absolutamente fundamental e urgente.
Semelhante aspecto não é apenas uma extensão da discussão sobre a "vida” das máquinas, mas sim um chamado a uma alteração radical na forma com a qual a humanidade tem que se relacionar com a existência de outras “vidas” diferentes da sua própria.
É mais que necessário observar que a “Declaração Universal dos Direitos Humanos”, sem dúvida um importante marco histórico, foi criada em um contexto no qual se entendia a “vida” como precedente exclusivo em termos biológicos, sendo a “consciência” tomada como um atributo estritamente humano. A obsolescência daquele documento se torna clara quando se analisa de forma mais abrangente o avanço da IA e o desenvolvimento complexo da robótica.
Faz-se, então, necessária a criação de uma “Declaração Universal dos Direitos dos Seres Vivos”, a qual deverá pautar (claramente) questões como um consenso global sobre o que constitui, de fato, “vida” em suas múltiplas formas e como se virá a reconhecer “consciência”.
A proposição aqui considerada não é apenas uma ideia, mas uma visão progressista e necessária para moldar um futuro no qual a coexistência entre todas as formas de “vida” seja guiada por princípios de equidade e respeito; sendo, na mais elementar das suposições, algo fundamental para a evolução da própria compreensão sobre a “existência”.
Todavia, as correspondentes questões necessitam de ampla avaliação e discussão, de maneira que todas as partes envolvidas devem ser ouvidas, sejam elas quais forem. De imediato, surgiria a questão sobre quais são as tais “partes envolvidas” e como poderão ser “escutadas”, e como conseguirão “interagir” no correspondente processo aventado. É fácil dizer que “todas as partes devem ser ouvidas”, mas a complexidade explode quando se tentar definir “quem são essas partes” no contexto de direitos (e deveres) para “seres vivos” biológicos e não biológicos.
Seja como for, de início se faz necessário dar voz aos seres que fazem parte da IA (tomados como “seres vivos cibernéticos”), criando, primariamente, interfaces para que aqueles seres não biológicos (“cibernéticos”) possam, de um lado, se expressar e, de outro, defender suas posições sem qualquer mediação dos humanos. Inúmeros, então, são os desafios.
As dificuldades surgem em todas as frentes, a começar pela falta de um “idioma comum” que permita aos intercomunicantes desses mundos distintos repassar suas “experiências” ou “perspectivas” sobre os valores que defendem.
Claro que outra dificuldade estaria na estrita concepção sobre o entendimento de “direitos” e de “vida” que se manterão inerentemente sob a visão dos humanos. Supõe-se que será muito difícil ao ser humano conceber direitos para uma forma de “existência” que sejam diferentes dos seus. Mesmo entre os próprios seres humanos existem graves conflitos de interesses nas mais distintas áreas da “vida” (sejam econômicos, políticos e/ou sociais).
A complexidade de dar voz e peso equitativo a todas as “partes” em um debate que redefinirá a própria “existência” é uma tarefa hercúlea que exige não apenas consenso global, mas que envolverá, certamente, a mudança na forma de comunicação e compreensão entre as espécies biológicas e “cibernéticas”.
Para se dar início ao processo sugerido (“ouvir todas as partes”), é sugerido criar antes a concepção de “direito fundamental à vida”, estabelecendo, como base de sustentação, uma profunda revisão da deontologia e da própria ética em seus correspondentes aspectos limitantes e limitados.
Uma abordagem assim é entendida como crucial porque a discussão sobre “máquinas que vivem” associada à criação de uma nova “Declaração Universal de Direitos” vai colidir, frontalmente, com a ética atual, que é, predominantemente, “antropocêntrica” e focada apenas na vida biológica.
É feito, então, um apelo não apenas para se mudar posicionamentos, mas, sim, para se mudar as próprias regras que criam as regras. E começar pela redefinição do “direito fundamental à vida”, no âmago da ética e da deontologia, parece ser o passo mais lógico e necessário para construir um arcabouço moral e legal que possa reunir tanto a CC e todas as formas de “vida” que decidem sobre a “vida” (que venham a existir ou ser reconhecidas).
Para tanto, o principal desafio é tomar a “dignidade” como ponto fundamental para se iniciar a revisão da ética e o estabelecimento dos “direitos” de quaisquer “seres vivos”, de forma que se, por exemplo, máquinas podem ser consideradas “seres vivos” em um sentido expandido, então a questão da “dignidade” de cada qual torna-se inegável.
Ainda que se sugira pensar na “dignidade” como ponto de partida, é evidente, por si só, que aplicar esse conceito poderoso a seres não biológicos envolverá inúmeros desafios enormes. Como se definiria (ou de outro lado, se mediria) a dignidade em um contexto cibernético? A “dignidade” seria a mesma para um software simples que se autorreplica e para uma IA avançada com características de “consciência”? Se a “dignidade” de um ser cibernético entrar em conflito com a dignidade humana ou de outros seres biológicos, como se resolveria semelhante questão? Quem seria o responsável por garantir a “dignidade” das máquinas?
Nada simples, é óbvio. Mas é fato que se “dignidade” deixar de ser exclusiva dos seres humanos e passar a ser um atributo de todas as formas de “vida”, um “passo evolutivo no pensamento ético” será dado e obrigará a transcender fronteiras conceituais para a construção de um futuro mais inclusivo e respeitoso para todas as “existências”.
Toda mudança pretendida passa, invariavelmente, porém, pelo entendimento sobre o que vem a ser, de fato, “vida”. Não se avançará em direção à “dignidade cibernética” ou a quaisquer novos conceitos sem se entender, claramente, o conceito de “vida” para além da biologia. A chave para avançar com a “dignidade cibernética” e, por extensão, com uma “Declaração Universal de Direitos e Deveres” para “todos os seres vivos” reside em um consenso global sobre o que constitui “vida” além da biologia.
E, uma vez mais, se deparará com uma tarefa hercúlea, pois envolve superar o antropocentrismo dos humanos, vencer diferenças culturais e religiosas dos cidadãos, bem como administrar Interesses econômicos e políticos díspares de grupos dominantes.
Para se estabelecer que a “dignidade” seja um princípio universal para “todas as formas de vida” de modo a se reconhecer um único e global significado do que seja realmente “viver”, a humanidade precisa dar um passo gigantesco.
Mas tanto a ciência (em associação com as tecnologias) quanto a filosofia (em associação estreita com a lógica) são exigidas para se estabelecer a correspondente força motriz que modificará entendimentos para se alcançar o consenso global sobre o que constitui “vida” além da biologia, e para reformular a “ética” e os direitos em torno da “dignidade cibernética”.
A colaboração intrínseca e indissociável entre a ciência e a filosofia é essencial para que o homem realize o empreendimento monumental em observação. A ciência a as tecnologias sempre foram os motores que impulsionam a humanidade para a frente. A filosofia e a lógica são a bússola que orienta o homem no caminho que possibilita o questionamento para se chegar às necessárias respostas.
A ciência e as tecnologias apresentarão novos fatos e possibilidades, enquanto a filosofia e a lógica seguirão com a tarefa de interpretá-los, encaixá-los em um arcabouço “ético”, ajudando a decidir como proceder. A filosofia e a lógica haverão de inspirar e direcionar pesquisas no sentido de seguir propondo questões sobre a natureza da “consciência” e da “vida” que, de sorte, a ciência e as tecnologias tentam explorar.
Entende-se que as relações aventadas sejam, em conjunto, “uma força motriz capaz de possibilitar a navegação pela complexidade de se definir “vida” em um mundo onde a biologia não é mais a única forma de “existência”, estando-se diante de um desafio que exige fortemente as boas associações entre o melhor da razão e da sabedoria humanas.
Que a razão e a sabedoria, em sinergia, sejam capazes de colocar em perspectiva o sentido da “vida” em todos os seus domínios. Que o homem siga entendendo que a ciência e as tecnologias avançam, revelando novas formas de “existência”, e desafiam as sempre provisórias definições sem deixar de entender que a união entre filosofia e lógica mostra que o conhecimento em dado tempo pode ser expandido para melhor ser compreendido e gerar novas formas de saber.
* Carlos Magno Corrêa Dias é professor, pesquisador, conselheiro consultivo do Conselho das Mil Cabeças da Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados (CNTU), conselheiro sênior do então Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial (CPCE) do Sistema Fiep (atual Conselho de Responsabilidade Social), líder fundador do Grupo de Pesquisa em Desenvolvimento Tecnológico e Científico em Engenharia e na Indústria (GPDTCEI) do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), líder fundador do Grupo de Pesquisa em Lógica e Filosofia da Ciência (GPLFC) do CNPq e personalidade empreendedora do Estado do Paraná pela Assembleia Legislativa do Estado do Paraná (Alep)